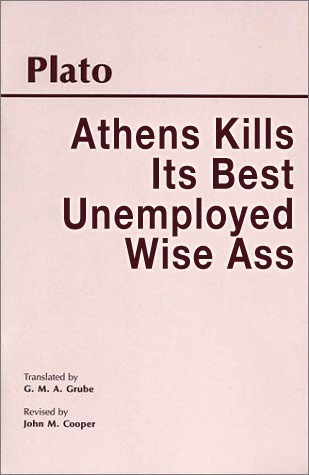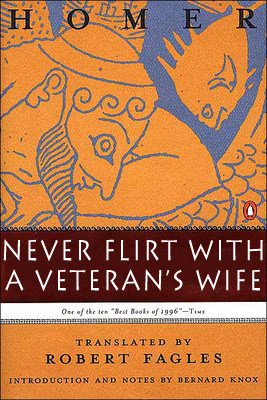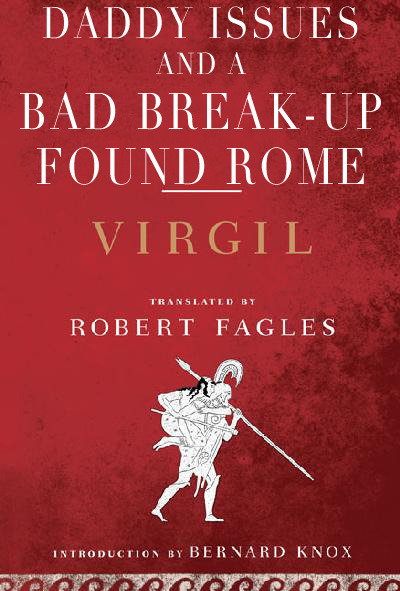Santo Agostinho, Cidade de Deus
Gulbenkian, Lisboa: 1991, 93 e 95.
Tradução em três volumes de J. Dias Pereira.
Citações da Cidade de Deus são uma paisagem familiar para os leitores deste blogue desde o seu começo. De facto, foi por volta de maio, em cumprimento de uma promessa que fizera já no ano anterior a um amigo meu, que peguei na obra mastodonte de Agostinho, ciente de que me exigiria grande dedicação, mas sobretudo uma enorme paciência e perseverança. Falamos, afinal, de um livro de filosofia/teologia (fora um romance e o «problema» não se poria) com mais de duas mil páginas, que se estende por três volumes. Não é a Summa Theologica (que era, não nos esqueçamos, um manual para principiantes), mas não deixa de impor respeito.
Não tenho propriamente como princípio comentar no blogue obras da Antiguidade e, se abro aqui uma excepção, faço-o em virtude do esforço que a Civitate me exigiu, mas também por estarmos perante o que será, muito provavelmente, a última grande obra do período greco-romano, sendo que o texto de Agostinho, simultaneamente, estabelece já a ponte para a Idade Média, ao lançar os fundamentos sobre os quais esta se construirá. Não deixa de ser perturbador, ou, se preferirem uma palavra mais suave, estranho, pensar que, se ousarmos traçar uma linha da literatura dos pouco mais de 1200 anos que durou a chamada Antiguidade Clássica, encontramos, num dos extremos, a Ilíada, no outro, a Civitate. Um novo mundo irrompera de dentro do antigo (um pouco ao jeito do bicharoco no Alien).
Na Civitate, porém, encontramos ainda, muito presente, o universo pagão. De facto, a obra está dividida em duas grandes partes: na primeira metade, Agostinho refuta os argumentos dos filósofos contra os cristãos, envolvendo-se nas polémicas do seu tempo; na segunda, expõe a doutrina cristã sob o prisma unificador da narrativa do que ele designa de a cidade de Deus, a comunidade dos santos de todos os tempos. Como não é difícil de imaginar, numa obra assim tão vasta, é normal que nem todos os livros tenham a mesma qualidade. Na verdade, e adivinho que o que vá dizer não abone particularmente a favor da Cidade, creio que Agostinho nunca volta, no resto da obra, a alcançar a força, a todos os níveis, que o primeiro livro patenteia. Este foi escrito imediatamente após o saque de Roma de 410, tendo como missão principal consolar os cristãos da capital do império, que, obviamente, viam o mundo à sua volta a desagregar-se, não sabendo como lidar com o que, para a altura, deve ter sido um acontecimento absolutamente traumatizante. Nessas páginas iniciais, escritas sob a pressão dos eventos, nota-se uma urgência que, progressivamente, se vai apagando, um fogo e uma necessidade naquelas linhas que nos transporta, de facto, para a cidade em ruínas e, sobretudo, para a perplexidade dos crentes.
Como está bom de ver, não tardou a que se começasse a dizer que a culpa pelo ataque era da ascenção do cristianismo, e que os visigodos só haviam chegado à urbe por o culto dos antigos deuses ter sido desprezado. Já no Livro I se oferecem algumas respostas a estes ataques, mas será nos livros imediatamente seguintes, até ao décimo segundo, que Agostinho, de uma forma sistemática, trata de demolir toda a argumentação pagã, expondo, de forma crua, as contradições da religião antiga e das filosofias que acorriam em sua defesa. O tratamento exaustivo do assunto impressiona qualquer um, mas Agostinho sofre de dois principais problemas: primeiro, apesar de conhecer bem alguns dos textos latinos fundamentais, tem um conhecimento deficitário da produção grega e, mesmo dentro das obras romanas, ele apega-se obsessivamente a meia dúzia e, de entre estes, a certas passagens, que lhe são convenientes, em particular, insistindo nelas de forma algo repetitiva (confronte-se, em contrapartida, mais de dois séculos antes, Clemente de Alexandria, graças ao qual nos chegaram uma série de fragmentos de tragediógrafos, líricos e filósofos, um homem de uma cultura extraordinária: em doze páginas refere mais autores que Agostinho, nos seus melhores esforços, num livro inteiro).
O segundo problema da argumentação de Agostinho, mas que não lhe pode ser imputado na totalidade, é que procura combater o paganismo como se ele fora um sistema, coisa que, claro, ele não é, o que desde logo o deixa em desvantagem face à bem organizada ortodoxia dogmática cristã que, se é certo que estava ainda em formação, formava um todo bem mais coerente que tudo o que o paganismo conseguira produzir nos séculos antes. Agostinho opõe Platão a Porfírio a Apuleio a Varrão a Cícero, numa salganhada que, se, por um lado, para quem o lesse na altura, não deixaria de produzir uma sensação fascinante, ao ver as contradições entre tantos grandes nomes expostas sem pudor, por outro, do ponto de vista metodológico, não colhe, pois revela uma certa falta de honestidade: Agostinho sabia bem que não há um sistema de pensamento pagão organizado (simultaneamente a sua maior força e fraqueza), pelo que não pode pretender refutar um autor aludindo a outro. Isto, porém, não significa que também não haja refutações «a sério» e que Agostinho tenha simplesmente contornado os problemas fazendo batota: longe disso. Não diminuam assim infantilmente o que foi, apesar de tudo, uma das grandes cabeças do seu século. Há excelentes capítulos de óptima filosofia espalhados por esta primeira parte. Desta, então, será de ler com especial atenção o Livro V e, para os interessados na parte mais hard filosófica, a partir do Livro VIII para a frente, se não me engano.
Já na segunda metade da obra, como se disse, Agostinho vai narrar a história da cidade de Deus, o que equivale, em boa medida, a recontar toda a Bíblia, em particular o Génesis, ao qual dedica uma série de livros e onde desenvolve, claro, a sua famosa doutrina do pecado original, que tem pormenores deliciosos, como: o facto de os homens serem, hoje, incapazes de controlar a erecção do pénis, é um resultado directo da Queda: não era assim que se passava com Adão, no Jardim. Ainda assim, se há coisa que pode surpreender, quando pegamos na Civitate, e tendo em conta as ideias pré-feitas que possamos ter sobre Agostinho, é ver o quanto, apesar de tudo, ele crê na bondade da criação e o seu pensamento sobre o mal enquanto entidade não existente per se, mas um testemunho precisamente da bondade natural das coisas (sim, isto tem fortes influências neo-platónicas: não nos podemos esquecer da juventude de Agostinho). Num capítulo em que discute as paixões, por exemplo, ele vai ao ponto de afirmar que estas são boas e naturais e que não se procura nenhuma espécie de imperturbabilidade estóica no cristianismo, pelo contrário: como ele sublinha, até Cristo chorou quando Lázaro morreu.
Quem, portanto, se abrir, não deixará de ter muitas surpresas, logo a começar pelos tais livros sobre o Génesis. Diga-se, em abono da verdade, que são dos mais interessantes desta segunda parte da obra, pois que, a partir de um dado momento, começamos a entrar num registo em que nos perguntamos se não valeria estar mais a ler a Bíblia em vez de ler narrados em segunda mão os acontecimentos do povo de Israel. A partir de Noé, também, começam uma série de capítulos — perdoem-me, mas não posso classificá-los de outra forma — secantes, sobre a questão das divergências, na contagem dos anos dos patriarcas e das gerações, entre a versão hebraica e a dos Setenta. Por importante que seja o assunto, foi com grande sofrimento que li todas as páginas consagradas a uma coisa que é, para nós, absolutamente irrelevante. Nesta segunda parte temos ainda um livro que pode interessar a alguns, em que se procura mostrar como a vinda de Cristo e a expansão da Igreja estavam já previstas no Antigo Testamento. Sabemos todos que a Igreja o defende, mas é curioso ver a argumentação de perto. Contudo, sem qualquer espécie de dúvida, depois, como digo, daqueles primeiríssimos livros dedicados ao Génesis, o melhor da segunda parte da obra está reservardo para o fim, com os livros sobre a ressureição dos mortos, nomeadamente aquele em que se analisa a sorte dos danados, não, como possam estar a pensar, pela diversão que possa proporcionar a descrição da feira de torturas que se imaginava ser o inferno, mas sim pela forma como Agostinho tenta defender a sua existência, a possibilidade de a carne ressuscitar e a possibilidade de esta não arder no fogo. Podem parecer bizantinices, mas, no que diz respeito, por exemplo, à questão da carne, encontram-se aí alguns dos mais interessantes passos de toda a Civitate.
Em suma: a Cidade de Deus ganharia muito em ser antologizada, pois é uma obra muito de altos e baixos, capaz de passagens genuinamente apelativas e outras, pelo contrário, fastidiosas e mesmo insuportáveis. Do ponto de vista da teologia, estamos perante uma obra de, num primeiro momento, polémica apologética e, num segundo, construção de dogmática. Do ponto de vista filosófico, os últimos livros da primeira parte são os mais preciosos, bem como um ou outro capítulo sobre a ressureição, já no fim. Por fim, o livro ganha ainda alguns pontos pelas inúmeras referências que encontramos a cenas do quotidiano, muitas das quais transcrevi aqui no blogue, como seja a descrição dos murais no porto de Cartago ou o momento em que, pela primeira vez, Agostinho viu um íman em acção, mil anos depois de Tales de Mileto. Esses momentos, breves, mas recorrentes, aligeiram o tom da obra, e valorizam-na. O facto, porém, de estarem espalhados, fortifica a minha convicação de que a obra ganharia, de facto, com uma selecção do que tem de melhor, uma antologia dos melhores passos de filosofia, teologia e quotidiano, colecção essa que teria obrigatoriamente de começar por uma transcrição, na íntegra, do primeiro livro.